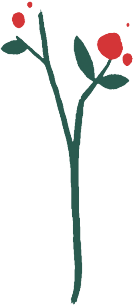E não sabia ao certo se andava sob o silêncio submisso de ponta de pés, se
julgava no compasso das pausas um lugar para o suspiro, uma forma de dar
voz à dor.
Beatriz movia-se disciplinadamente numa delicadeza que a fazia pétala. E naquela solidão percebia olhos que não a fitavam, preocupavam-se mesmo com figurino, maquiagem, cenário, performance e arranjos.
Temia que entre um salto e outro o corpo desfalecesse, partisse e se espalhasse, num terror repentino, que se misturava a melodia de sua encenação.
Era bailarina! Entendia sua vocação. Cotidianamente estreitava os mesmos
laços, tornava a transpassar de fitas o manequim, com frequência fazia as
pazes com o corpo que, vez ou outra, queixava alguma estripulia. Não
desacatava aquelas sapatilhas mágicas que agora pareciam cantar despedida:
“Já não posso mais…”.
Aquela caixinha de música escondia, além dos aposentos de bailarina e sua
camareira, os badulaques que permitiam a apresentação do espetáculo a cada
pulsar de uma mão que inadvertidamente, ou não, desatava o feche…
E a caixinha se abria!
Corda e piano, chão cintilante, ação!
A rotina seguia no trânsito mesmo dança-descansa, silhueta, medidas em dia,
cuidado, estrado marcado e paetês.
Não culpava o tempo, ao contrário, admitia que este lhe fora generoso ao
longo dos anos a oferecer uma plateia distinta. E além desta, uma esperança
traduzida em ansiedade e alegria que lubrificava sua vaidade.
Então alguém aparecia; depois outros. Lágrimas, memórias, risos, e lhe
bastava!
Mas algo acontecera, não sabia ao certo decifrar. Naquele ir e vir; abre e
fecha; pausa e canção; tornava a se vestir segredando a fiel camareira:
“Estou apenas reagindo. Há tempo que não danço mais!”.
Lady Brilu que cuidava de todos os detalhes não compreendia o desabafo. Os
shows aconteciam como de costume, pensava. E tornava a lembrar-lhe com
primazia as sutilezas de seu dom: beleza, fantasia, sedução.
Sendo bailarina, Beatriz passou a considerar a possibilidade de um passo
inconsequente. Ultrapassaria os limites da caixinha céu abaixo e, quem sabe,
apaziguaria aquela dor silenciosa, intransponível a camareira; sufocante,
imperceptível a plateia.
Seu aposento reservara, como por descuido, uma fresta que mais lhe servia de
janela para fitar as peripécias do mundo. Confundia-se, teria aprendido com
clareza tudo aquilo que diziam os humanos?
Sob a cômoda que acolhia a caixinha via fotos de uma beleza extasiante que
chamavam “amar”. E vez ou outra ousava pensar que “amor” era algo como
dizer “na minha humanidade te preciso”. E isso desejou.
Porque eram humanos que diziam e não uma bailarina engaiolada numa
caixinha imaginava esse encanto: envelhecer com vista para o mar, amar. Seria tudo uma coisa só?
Remoía as ideias com suas fitas e sapatilhas, afinal, Lady Brilu jamais
compreenderia. Ela se preocupava sim em engomar vestido, endossar
maquiagem, cobrar disciplina, postura, quadril e coluna em perfeita harmonia.
E bailarina repetia: “Oh eu só faço espetáculo, mas já não danço mais”!
Ser boneca bailarina anos à vida começou a doer. Como seria ter um nome
para habitar? Mas ela não. E respirou profundamente.
No fundo imaginava que o mundo lá fora também atuava em espetáculos
particulares e públicos. Sentia constrangimento e agonia em pensar a vida
para além da caixinha.
Queria mesmo era trilhar o encantamento, a magia, sentir aquele suspiro
de vida dos humanos. E ensaiou o mais arriscado dos saltos.
Naquela manhã, sem agasalho de fitas, de paetês, antes mesmo que o sol fosse visto pela escrivaninha, beijou sua Lady, rabiscou algo num papel cintilante. E se despediu quando a caixinha se abriu.